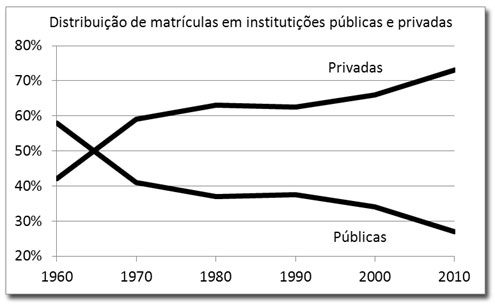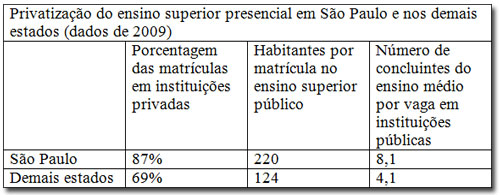Mortes à sombra dos quepes
Em trechos inéditos de um depoimento histórico, o ex-presidente
Ernesto Geisel defende a tortura e confirma que o Exército matou
Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho
 |
| Ernesto Geisel não se recusou a tratar de temas cruciais como os enforcamentos nas prisões em 36 horas gravadas pelos historiadores |
A poucos dias do anúncio dos nomes da Comissão da Verdade responsáveis
por desvelar os segredos guardados nos porões da ditadura militar
(1964-1985), um pouco das histórias escondidas pela repressão foi
trazido à luz por uma entrevista concedida em 1993 pelo general Ernesto
Geisel ao Centro de Documentação e Pesquisa (CPDOC) da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Quarto presidente a ocupar o Palácio do Planalto depois do
golpe de 31 de março de 1964, o “Alemão” confirmou que o regime à época
não só praticava a tortura, como foi o responsável direto pelas mortes
do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e do operário Manuel Fiel Filho,
em 1976. Geisel chegou a confirmar aos historiadores Maria Celina
D’Araújo e Celso Castro que, ao contrário da versão oficial difundida à
época, Fiel Filho foi, sim, morto por militares: “Num fim de semana, ele
(o então comandante do Exército em São Paulo, general Ednardo D’Ávila
Mello) não estava em São Paulo e mataram o operário”.
O material recolhido pelos pesquisadores, e que deve ser analisado pela
Comissão da Verdade, reúne mais de 36 horas de gravações que traçam um
panorama da história recente do país. Parte já foi publicada no livro
Dossiê Geisel, mas vários trechos permanecem inéditos — como a confissão
do assassinato de Fiel Filho pelo Exército. Maria Celina diz ao Estado de Minas
que, mais importante do que os depoimentos dos comandantes militares
coletados pela instituição — que encerram um ciclo até porque muitos
morreram —, é avançar na reconstituição dos aparelhos de terror do
Estado.
“Os militares, inclusive Geisel, defenderam a repressão, mas o regime de
terror de Estado teve participação ativa da mídia e de empresários.
Essa é a história que falta levantar. Espero que a Comissão da Verdade
avance nesse sentido”, pressiona Celina. Geisel, explica ela, tentou
driblar e desmantelar a esquerda e a extrema direita durante o seu
governo. “Teve êxito no primeiro combate, pois a esquerda se
desmantelou, mas a extrema direita se manteve ativa e operante até o
atentado no RioCentro, em 30 de abril de 1981, durante o show do 1º de
Maio”, esclarece. Faltaria ouvir, portanto, empresários que estão vivos e
podem esclarecer o funcionamento das masmorras.
“A sociedade que participou dessa repressão precisa e deve ser ouvida,
como ocorreu na Alemanha pós-Hitler e como ocorre hoje na Espanha em
relação à ditadura de Franco.” Celina está convencida de que, assim, a
história será resgatada e de que a anistia estará em xeque e poderá ser
revista. “O governo do general João Baptista Figueiredo foi o governo
dos órgãos de inteligência e o texto da Lei de Anistia levou em conta
essa realidade. ”A historiadora não vê esse resgate da memória como
sinal de revanche, mas como dever de Estado, em nome da verdade
histórica.
Falta de comando Maria Celina contou que não se surpreendeu na manhã de
1993, quando Geisel defendeu a tortura, porque “o fez em nome da
corporação, do Exército”. Descendente de alemães, o general, que nasceu
em Bento Gonçalves (RS) em 3 de agosto de 1907, teve formação luterana e
guardava profundo respeito à hierarquia. Ao defender a tortura, tratou
de dizer que um grupo de militares aprendeu as táticas na Inglaterra
durante o governo de Juscelino Kubistchek de Oliveira e que, para evitar
mal maior, a tortura se justificava. A confissão, dita em tom seco,
tenta justificar a prática ainda negada pelos militares, e será alvo da
revisão histórica da Comissão da Verdade. “Acho que a tortura em certos
casos torna-se necessária, para obter confissões”, defendeu Geisel aos
pesquisadores.
O general, apesar de manter a visão corporativa da tropa, disse a
historiadora, não se recusou a falar de temas cruciais, como as mortes,
durante o seu governo, do jornalista Vladimir Herzog e do operário
Manuel Fiel Filho. Atribuiu os dois enforcamentos nas dependências da
repressão em São Paulo à ausência de comando e diz que o general Ednardo
D’Ávila Mello, do II Comando Militar em São Paulo, teria abandonado a
tropa para atender a convites da alta sociedade de São Paulo. “Ele ia
passear no fim de semana, fazendo vida social, e os subordinados dele,
majores, faziam o que queriam. Ele não torturava, mas, por omissão, dava
margem à tortura.”
Confissões da caserna
Os depoimentos de generais, almirantes, brigadeiros, coronéis e tenentes
tomados pelos pesquisadores do CPDOC/FGV deram origem aos livros Visões
do golpe: a memória militar sobre 1964; Os anos de chumbo: a memória
militar sobre a repressão e A volta aos quartéis: a memória militar
sobre a abertura, todos coordenados e organizados por Maria Celina com
Celso Castro e Gláucio Soares. Já trechos do depoimento do general
Ernesto Geisel deram origem ao Dossiê Geisel, livro editado pela FGV,
que está esgotado. Apenas para pesquisadores, a FGV franquia o acesso
aos depoimentos fonográficos e à transcrição completa do depoimento do
general, morto em 1996. O testamento em que fala abertamente da vida
pessoal e militar e de suas impressões sobre o Brasil e a política foi
revisado, página por página, pelo próprio general até 1996, quando
morreu em 12 de setembro, vítima de câncer. A filha, Amália Lucy Geisel,
também historiadora, foi quem deu aval para a FGV divulgar o documento.
*comtextolivre